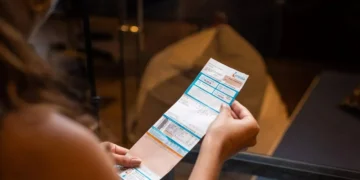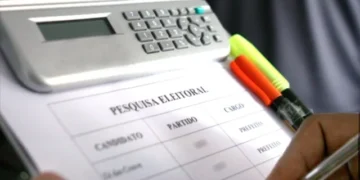Na última faxina do mês em meu apartamento, minha diarista fez a seguinte pergunta: O senhor é militante? Eu? Por quê? Porque o senhor é todo pra frente, assim descolado. Você só precisa trocar os lençóis. As toalhas, troquei ontem. Mas o senhor é? Insistiu. Tô atrasado. Depois a gente fala disso. Deixe a chave na portaria e te mando o pix depois. Tem comida na geladeira. Enquanto isso, ela olhava pra mim e apertava a esponja na pia da cozinha.
No caminho pro trabalho – minha diarista sempre fica sozinha no apartamento porque detesto assistir a faxinas – lembrei da pergunta e o porquê de não ter ficado discutindo com ela sobre o assunto.
Não sei se subestimei ou superestimei minha diarista. Falar de Maio de 1968 ou da Primavera Árabe, por exemplo, poderia soar soberba. Nem todos sabem que tudo começou na Tunísia por volta de 2010, segundo Manuel Castells (1942), ou que o Maio de 68 a gente importou da Europa numa caixinha colonizada. Era muita informação. Há uns sete semáforos entre meu apartamento e o trabalho. Obedeci a todos.
Sempre tive preguiça de ser engajado, de participar do processo, de lutar por direitos, de não calar. Embora tenha tentado algumas vezes, sempre me cansou. Não devo ser um militante e poderia ter respondido a ela. Também poderia ter dito: não, sou ativista. Mas não sou nenhuma coisa nem outra.
As vezes que tentei ser, voltei pra casa me sentindo um ridículo. Era muita gente junta, suada, cheiro ruim, um calor enorme. Muita gente gritando. E eu só pensava no meu ar-condicionado e num banho quente.
Mas tudo tem uma recompensa. Lembrei-me do Ney Matogrosso. Estacionei na garagem do meu trabalho.
Cito Ney nessa história para me redimir. Em 2019, em entrevista à BBC News Brasil, ele é questionado sobre o porquê de não levantar bandeiras, já que era um ícone do mundo LGBT e da transgressão. Ele, sabiamente disse: “Dizem que não carrego bandeira, mas a bandeira sou eu”. Poderia ter dito o mesmo à minha diarista.
Enquanto caminhava pra sala na qual trabalho, lembrei de junho de 2013 aqui no Brasil. Sem querer invisibilizar o movimento dos centavos no transporte público, da tarifa zero, algo legítimo, penso ter sido aquilo uma versão melhorada dos caras-pintadas de 1992, quando um monte de gente foi às ruas pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello e o fim da corrupção. Bobinhos e bobinhas. Não me lembro de nenhum herói dessa época. É que, segundo Castells, alguém morre para virar herói e dar fôlego e morte ao movimento. Que não seja eu.
Aqui no Brasil, segundo a história oficial, o primeiro “morto público” foi o estudante Edson Luís de Lima Souto, 18 anos, que a ditadura militar (1964-1985) matou durante manifestação em março de 1968. Talvez a gente não saiba disso porque na época não havia rede social – o que foi crucial na Tunísia.
Na Tunísia, em 2011, foi o Mohamed Bouaizizi, um jovem de 26 anos que ateou fogo sobre o próprio corpo porque a polícia local não o deixava vender suas frutas na banca que tinha. Daí fiquei pensando que teria que sentar com minha diarista e falar de como isso reverberou no Egito, Síria, Líbano, Brasil. A gente tinha que pesquisar e eu só imaginava que meu apartamento não ficaria limpo a tempo. O expediente terminou.
Será que ela ainda tá no apartamento?
“Ramiro, deixei a chave no local combinado”, meu WhatsApp. Obrigado. Passo já o pix. “Ficou do jeito que o senhor gosta. Vai me chamar depois?” Não respondi. Vou esperar a sujeira juntar. Até lá, me encho de argumentos.
Abri a porta do apartamento. Cheirinho bom. Estava tudo limpinho. Melhor assim.
Depois eu respondo a ela. E a mim.
RAMIRO BAVIER
É jornalista e servidor público
bavier@gmail.com