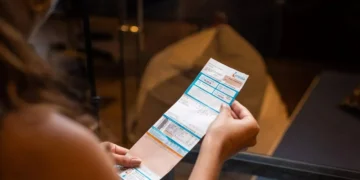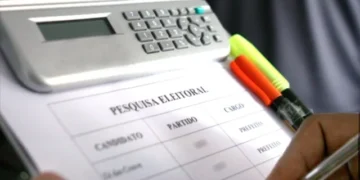No domingo de 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel sancionou uma das leis mais emblemáticas da história do Brasil. A assinatura da Lei Áurea, há exatos 130 anos, foi um marco que aboliu formalmente a escravatura no Brasil, mas que não determinou uma fronteira clara entre a escravidão e a liberdade dos negros no país.
Apesar da Lei Áurea ter sido aprovada na Câmara e no Senado e sancionada pela princesa regente em apenas cinco dias, conforme registra o Jornal do Senado na edição de 14 de maio de 1888, especialistas destacam que o processo de abolição no Brasil ocorreu graças ao protagonismo dos negros durante anos, de forma homeopática, e não por um ato único e definitivo da princesa regente.
A semente para a abolição também foi plantada por meio da mobilização de famílias e irmandades negras, além do trabalho intenso de advogados, escritores e jornalistas negros que utilizaram a imprensa e outros meios de expressão para defender a liberdade e a garantia dos direitos dos escravizados e mais tarde dos recém-libertos pela Lei Áurea.
Reescrita da história: o abolicionismo negro
A conquista da liberdade formal foi atribuída ao longo da história como uma concessão da elite política da época. Contrariando essa narrativa, historiadores contemporâneos destacam as trajetórias de homens e mulheres negras que participaram ativamente da abolição.
“Eram muitos abolicionistas negros e essa história oficial basicamente reduziu essas várias possibilidades de atuação na figura de [José do] Patrocínio e, mesmo assim, limitando, caricaturando o que foi a atuação dele, como aquele que beijou a mão da princesa, o traidor”, relata a professora.
Entre os personagens destacados pela especialista no contexto da abolição no Rio de Janeiro e São Paulo figuram os advogados e jornalistas José Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz Gama, além do escritor Machado de Assis. Em sua tese, a historiadora também lembra outros nomes, como Ignácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Theophilo Dias de Castro, intelectuais que também lideraram jornais ou manifestações artísticas em defesa da libertação dos negros.
“Agora, a gente tem condições mais favoráveis pra voltar a esse 13 de maio com outros olhares e outras perguntas que permitam reconhecer os esforços negros na luta contra a escravidão. Porque, ainda que o projeto dessas pessoas não tenha sido o vitorioso, não se pode ignorar a luta dessas pessoas. Isso é um outro roubo de historicidade da experiência negra”, argumenta a historiadora.
Liberdade relativa
A historiadora explica que a invisibilidade da atuação de negros influentes se deve a um “processo de embranquecimento da liberdade” e de retirada da população negra do lugar de sujeito da história.
Em seu trabalho, ela mostra que, mesmo antes de 1888, já havia uma população negra livre significativa que não tinha sua condição de liberdade reconhecida. Em alguns lugares, o número de negros livres superava o número de escravos no final do século 19, mesmo assim, muitos eram vistos ou tratados como não libertos.
Segundo o recenseamento de 1872, pretos e pardos correspondiam a 25% da população livre. Na Corte, essa participação era de 26,65%, entre as mais de 27 mil pessoas livres. Em São Paulo, na população negra a proporção era de 6,72 livres para dez negros, como aponta pesquisa da professora.
“Quando acontece a abolição em 1888, a maioria da população negra já era livre, mas havia o peso do racismo legitimando a interdição da cidadania. A tal ponto que era muito comum se pensar que toda pessoa negra era escrava até que se provasse livre. E a gente tem uma deficiência muito grande pra perceber essas trajetórias negras na [no processo pela] liberdade”, explica Ana Flávia.
Falsa abolição
A nova corrente acadêmica também destaca como a abolição da escravatura, apesar de ser considerada um dos capítulos centrais da história do Brasil, deixou para a população negra um legado doloroso.
Contra a ideia de celebração da data de 13 de maio, o movimento negro promove, principalmente depois da década de 70, um debate crítico sobre a abolição. “Não é celebração, é uma lembrança, um destaque, porque são 130 anos de violações de direitos”, declara a socióloga Vilma Reis, Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia.
“Por que não se comemora a abolição? Porque é um momento de reflexão crítica dolorosa, no sentido de que falar sobre a abolição é falar sobre uma cidadania que nunca se completou, que nunca foi efetivamente para a população negra em termos coletivos”, completa Ana Flávia.
Livres no papel, os negros recém-libertos enfrentaram o desafio do desemprego, falta de moradia, de acesso à saúde, educação e outras políticas públicas. Ao contrário do que ocorreu com os ex-proprietários de escravos, que mesmo antes da sanção da lei Áurea, já tinham a garantia de que seriam indenizados pela perda da posse dos trabalhadores, quando foi assinada a Lei do Ventre Livre.
Os negros recém-libertos saíram das senzalas sem que nenhuma política de indenização os acolhesse. Alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco, defenderam mudanças na chamada Lei de Terras, que excluía os escravos da distribuição de propriedades no pós-abolição. A luta pela terra, no entanto, persiste até os dias atuais com o processo de titulação das áreas pertencentes a comunidades quilombolas.
Em 1890, o Censo brasileiro indicava que os não brancos correspondiam a 56% da população brasileira, estimada em 14,3 milhões de pessoas, conforme dados apurados na tese de Ana Flávia. Mesmo sendo maioria, a população negra foi marginalizada e obrigada a viver e trabalhar em condições precárias, quadro que, 130 anos depois, ainda não foi alterado de forma efetiva.
“É importante a gente pensar nos abolicionistas lá do século 19 e o que a gente está enfrentando aqui hoje. Essa situação hoje é lastimável, de um racismo atemporal que se organiza no Brasil e que muita gente que está no topo do comando político tem ojeriza de sequer citar esse debate, quanto mais enfrentar o que essa situação de exclusão histórica produziu e impactou no projeto de vida da coletividade negra do país”, critica Vilma Reis.

Educação e memória
Para as especialistas, uma das principais estratégias para repensar o significado da escravidão e da abolição é a implementação da Lei federal 10.639/2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira no currículo escolar. Em vigor há 15 anos, a lei ainda não é aplicada em todas as escolas e universidades do país.
“As escolas particulares fazem todo tipo de manobra para não cumprir, e nas escolas públicas, muito do que tem acontecido, é por iniciativa das professoras que são ativistas. Às vezes, elas conseguem mobilizar todo o corpo docente das escolas”, contesta Vilma Reis.
A Ouvidora denuncia que a aplicação da lei também é baixa no ensino superior devido à omissão do Estado e dos gestores das instituições. “Nós vemos aí a manifestação violenta do racismo institucional, porque qualquer outro protocolo, com a potência que tem a Lei 10.639, qualquer arcabouço jurídico seria respeitado e implementado na universidade. E os gestores não implementam por exercício do racismo institucional no âmbito da educação superior”, critica.
Vilma destaca nesse processo a atuação da professora Petronilha Beatriz, que foi relatora da comissão nacional que elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ela lembra iniciativas tomadas pelos blocos afros na Bahia e Maranhão, trabalhos do Instituto de Pesquisa da Afrodescendência, no Paraná, e de coletivos negros e outros programas de diferentes estados.
A memória da escravidão e do processo abolicionista e discussões sobre a liberdade dos negros estão entre os temas que serão discutidos ao longo desta semana no 2º Seminário Internacional – Histórias do Pós Abolição no Mundo Atlântico. O evento ocorrerá de 15 a 18 de maio, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro, com participação de historiadores nacionais e internacionais, lideranças quilombolas e apresentações culturais, como jongo. (Débora Brito, da Agência Brasil)