Quando vi minha esposa pela primeira vez, ela tinha 19 anos e estava grávida de sete meses. Parecia feliz e desolada ao um só tempo: por um lado ia ser mãe, por outro, “mãe solteira”. Não que temesse o preconceito da sociedade, mas sim os desafios de criar um filho sozinha.
Além disso, parecia sentir-se culpada por decepcionar seus pais, que viviam no interior e a enviaram à capital para concluir seus estudos. Queriam, enfim, dar-lhe uma oportunidade que eles não tiveram, ou, se tiveram, não souberam aproveitar.
Desta forma, acreditavam eles, a gravidez e o nascimento do bebê atrapalhariam o projeto de vida que, de certa forma, haviam traçado para ela.
Não atrapalharam. Ela trabalhava durante o dia e estudava à noite. Mas sua alimentação era irregular, em decorrência da correria, e do ambiente conturbado em que vivia – uma espécie de república para estudantes, com um número inconcebível de amigas, com quem dividia um espaço diminuto.
Eu morava em frente à república, na casa de uma de minhas irmãs. Na época, costumava ler sob uma árvore frondosa na calçada, de onde às vezes interrompia a leitura, ajustava os óculos, e via o entra e sai dos estudantes na república.
A primeira vez que a vi, ela parecia ter acabado de sair do banho. Com os cabelos molhados, estava envolta em uma enorme toalha, para cobrir (sem disfarçar) a enorme barriga, enquanto falava ao telefone público – um orelhão.
Não sei se tenho fetiche por mulheres grávidas, mas elas sempre me fascinaram. Com ela não foi diferente. Não sabia, porém, como me aproximar dela, sem nenhuma informação prévia a seu respeito. O que fazer?
A resposta viria por meio de uma de amiga em comum. Ela não só me deu a ficha completa da “vizinha buchuda”, como passou a minha pra ela, antes de nos apresentar.
A apresentação aconteceu em frente à república, onde, sentados no meio-fio, como se já nos conhecêssemos de outras vidas, conversamos até alta madrugada. Nos vimos nos dias seguintes e, cerca de 15 dias depois, já estávamos morando juntos.
Visto em perspectiva, tudo parece bonito e romântico. Mas não foi bem assim, a começar pelo que diziam alguns amigos próximos e até familiares. Para uns, eu era um ser maravilhoso, sem preconceito, que “assumiu uma responsabilidade” que não era minha. Para outros, eu era um idiota, e pelo mesmo motivo.
Não foi romântico também por questões práticas, afinal não tínhamos onde morar. Eu trabalhava, mas não possuía sequer uma toalha para me enxugar. Havia as da minha irmã. Não precisava comprar. Meu dinheiro tinha outra destinação: as baladas.
Como se vê, tinha tudo pra dar errado. Nossa “pobreza mútua” nos levou a viver, durante muito tempo, “de favor” nas casas de amigos e parentes.
Apesar disso, passei a acompanhar com grande interesse o desenvolvimento do bebê, ou melhor da bebê, que chegaria em breve, franzina, quase raquítica, mas saudável.
Gostaria de dizer que acompanhei o parto “normal”, segurando a mão da mãe, para ajudá-la a suportar os (des)prazeres daquele momento. Dizem que as dores do parto não têm um ponto certo do corpo para ser sentida, podendo mudar de lugar a cada instante: no abdômen, nas costas, quadril, glúteos, coxas…
Mas não fiz nada disso. Na verdade, enquanto ela sofria para dar à luz nossa filha, eu esperava na recepção do hospital e tentava convencer a mim mesmo e aos nossos amigos e familiares de que estava “tudo bem”. Escondia assim o pavor que sempre tive por agulhas, cortes, sangue, hospital e até pelos profissionais que vestem branco.
Terminado o trabalho de parto, a enfermeira me disse que eu poderia, finalmente, ver minha filha. Quando a segurei, chorei de emoção, e soube naquele instante que a amaria para sempre – que ela era ‘minha’ e que o amor independe de ser “sangue do próprio sangue”.
Segurar minha filha pela primeira vez, é, sem dúvida, uma das memórias mais importantes da minha vida. Mas não a única. A outra aconteceu quando ela já tinha cerca de cinco anos.
Nunca escondemos dela o fato de que não sou seu pai biológico, mas sim o “papai do coração”. O “pai da minha filha” a visitava, vez por outra, quando ela era pequena, depois “sumiu”. Antes que sumisse, porém, nunca proibimos a convivência dos dois.
Quando já tínhamos outras duas filhas, mas não um carro pra levá-las à escolinha, ele fazia essa função. Todas as manhãs, passava em frente à nossa casa, pegava as três, agasalhava seus materiais escolares e as conduzia até a escola. Foi quando as outras também começaram chamá-lo de pai.
Um dia ele resolveu levar “nossa filha” para conhecer a avó (biológica) dela. Ao se despedir de mim, com sua pequena mochila nas costas, ela me abraçou e disse ao meu ouvido:
– Pai, “te ame”. E quando eu estiver na casa do “meu outro pai”, não vou te esquecer.
Me fiz de forte, disse que estava tudo bem e que ela era privilegiada por ter dois pais que a amavam. Mas quando ela saiu, me senti vazio, desolado. Sentei no chão da sala e chorei, enquanto dizia, sozinho:
– Papai também “te ame”, filha!
Mas por que rememorar essa história? Porque exatamente hoje (01/07/2022) ela completa 21 anos, e continuamos dizendo um ao outro:
– Te ame.
– Também te ame!
RUBENS GONÇALVES
É jornalista em Palmas
rubensgoncalvessilva@gmail.com

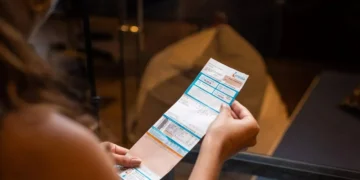
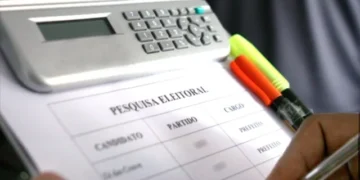














![Governador Wanderlei Barbosa [centro] em evento sobre o balanço de oito meses de gestão](https://clebertoledo.com.br/wp-content/uploads/2022/07/anuncios-governador-wanderlei-barbosa.jpg)
