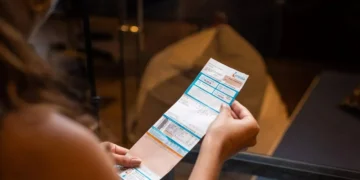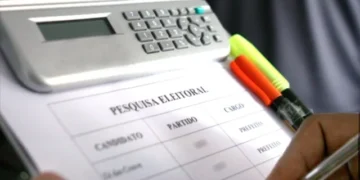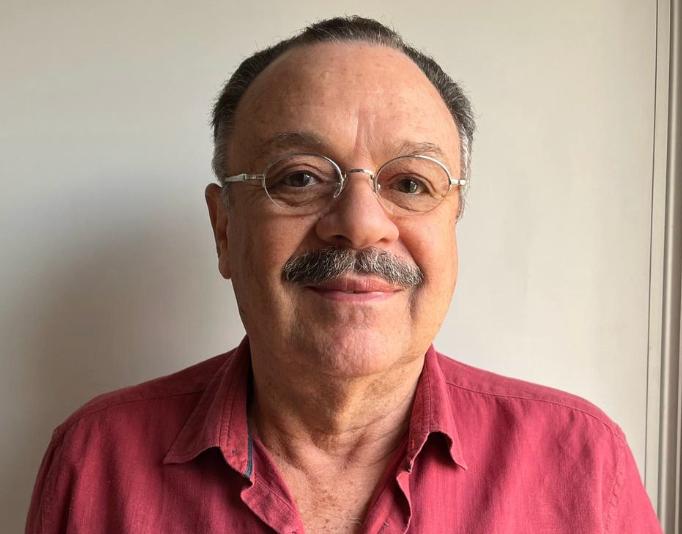A política comercial de Donald Trump, marcada por tarifas agressivas e retórica protecionista, não é apenas um capítulo isolado na história econômica dos EUA. Ela simboliza um movimento global de desconfiança na multilateralidade, com impactos que reverberam desde os campos agrícola americano às savanas do Cerrado brasileiro. Enquanto os Estados Unidos travam uma guerra comercial autodestrutiva, o Brasil emerge como um dos grandes beneficiários potenciais desse cenário, ainda que os efeitos colaterais exijam cautela.
Eu como um economista tocantinense situado à margem dos grandes centros decisórios (economista da periferia), mas atento às dinâmicas globais, observo que a política comercial de Donald Trump em relação à China carrega contradições profundas, especialmente para o agronegócio norte-americano. Os produtores rurais dos EUA já manifestam preocupação. Visto que as medidas de reciprocidade da China tendem a favorecer competidores como Brasil, Canadá e outros mais…, que poderão ocupar espaços estratégicos no comércio agrícola com os chineses. O paradoxo, porém, reside na fragilidade interna dos Estados Unidos.
Primeiro, há uma dependência crítica de insumos importados pelos americanos com fertilizantes, equipamentos e tecnologias essenciais para a produção agrícola, os quais são adquiridos no exterior. A taxação desses produtos, via tarifas alfandegárias, elevará os custos operacionais dos produtores domésticos. Consequentemente, os preços finais das commodities estadunidenses no mercado internacional perderão competitividade, justamente em um momento em que concorrentes como o Brasil ampliam sua capacidade produtiva.
E qual foi a sugestão de Trump aos produtores, “concentrem-se no mercado interno”, ignorando totalmente a realidade estrutural do setor, pois 40% da produção agrícola dos EUA é destinada à exportação. Redirecionar esse volume para o consumo doméstico geraria um excesso de oferta, pressionando os preços internos para baixo. Em um cenário de custos de produção elevados (devido às tarifas) e receitas em queda (pelo colapso dos preços), mesmo subsídios governamentais seriam insuficientes para compensar o prejuízo sistêmico. A lógica é simples, subsídios mitigam perdas pontuais, mas não resolvem a falta de viabilidade econômica de longo prazo.
Além disso, a estratégia de confronto comercial com a China coloca em risco relações interdependentes. Enquanto os EUA fecham portas, o Brasil com setores agrícolas igualmente robustos e menos expostos a tarifas, poderá consolidar parcerias com Pequim, garantindo acesso privilegiado a um mercado ainda mais ampliado de consumidores. A perda de market share global pelos EUA não apenas enfraquece sua balança comercial, mas também diminui sua influência geopolítica em um setor estratégico.
Com uma capacidade produtiva em expansão, infraestrutura logística em modernização (ainda que desigual) e custos competitivos, o Brasil está posicionado para suprir a demanda chinesa que os EUA se esforçam para perder. Em 2023, por exemplo, a soja brasileira representou mais de 70% das importações chinesas, um salto atribuído diretamente às tensões comerciais Sino-Americanas. Além disso, acordos recentes entre Brasília e Pequim, como a facilitação de exportações de proteína animal, consolidam o país como parceiro-chave na segurança alimentar da China.
Esse realinhamento não se limita à esfera comercial. Ao fortalecer laços com a China, o Brasil ganha influência geopolítica, tornando-se um ator central em fóruns como os BRICS e redefinindo seu papel em cadeias de valor globais. Para um país historicamente à margem das decisões econômicas globais, essa é uma oportunidade rara de ascensão estratégica.
No entanto, celebrar esse cenário sem ressalvas seria ingenuidade. A dependência excessiva do mercado chinês traz riscos. Primeiro, a concentração de exportações em um único parceiro torna o Brasil vulnerável a flutuações na demanda chinesa. Segundo, a pressão por expandir a fronteira agrícola pode intensificar conflitos ambientais e fundiários, especialmente na Amazônia e no Cerrado, colocando o país no centro de críticas internacionais.
Além disso, o protecionismo global, estimulado pelo exemplo de Trump, pode levar a retaliações indiretas. A União Europeia, por exemplo, já discute barreiras a produtos associados ao desmatamento, o que afetaria diretamente o agronegócio brasileiro. Assim, para o Brasil, o momento é de ambivalência, há uma janela de ouro para se tornar uma potência agroexportadora, mas isso exige uma estratégia sofisticada que equilibre ganhos imediatos com sustentabilidade de longo prazo. O país tem a chance de escrever um capítulo diferente, mas o risco de tropeçar nas mesmas pedras permanece.
Enfim, a política trumpista parece subestimar a complexidade das cadeias globais de valor. Ao penalizar importações essenciais e desconsiderar a dependência de mercados externos, o governo cria uma armadilha para seu próprio agronegócio, que levará a custos mais altos, preços deprimidos e concorrentes fortalecidos. Como resultado, o discurso protecionista, em vez de “proteger”, pode acelerar a erosão da competitividade norte-americana, um risco que até um observador periférico, como eu, consegue antever com clareza.
FRANCISCO VIANA CRUZ
É economista professor do IFTO e doutor em economia